Da minha casa paterna, desde os idos de 1970, acompanhei o desenvolvimento da capital do RN, que passou de uma típica comunidade de servidores públicos para uma metrópole importante da indústria turística, dada a beleza pródiga de suas praias e dunas.
Dali, testemunhei a chegada das maravilhas da revolução tecnológica – o celular, a internet, a tv por assinatura, veículos automáticos, etc. – e o surgimento, sucesso e desaparecimento de vários negócios, tais quais o Gramil, Saravá, Postinho, Castanhola, Cine Rio Grande, Barramares, Casa da Maçã, Pool Music Hall e Apple, dentre inúmeros outros que foram palco de tantas histórias da juventude.
Lembro-me de um tempo em que a expressão da felicidade se dava nas partidas diárias de futebol mirim, junto com meus irmãos mais novos e amigos da infância, na quadrinha da rua; nas brincadeiras de tica, garrafão, queimada, corredor polonês; nas festas juninas e natais, quando os vizinhos eram tão próximos que partilhavam tudo, de uma xícara de açúcar à celebração de datas tão especiais.
Foi nesta paisagem da meninice que ocorreu um crime na minha rua, fazendo-me, vez por outra, meditar sobre como certas coisas continuam a nos afetar ao longo do tempo.
Meus pais resolveram plantar, em frente de nossa casa, uma pequenina árvore e plantaram a fícus – uma árvore sagrada na Índia – que foi escolhida por questões bem mais práticas: a sua copa fechada forneceria uma sombra invejável, o que refrescaria a calçada.
Por isso, a fícus valia todo o cuidado de meu pai em aguar, podar e adubar sua nova amiga que, não indiferente, parecia agradecê-lo através do seu crescimento pujante, começando a projetar uma sombrinha na rua, que motivava ainda mais seus zelosos proprietários.
Um certo dia, ao se organizar para o dever diário de aguar a fícus, meu pai é surpreendido com o seu estado. Completamente desfolhada, ela parecia arquejar com os galhos desnudos voltados para o céu, tal qual mãos suplicantes dos angustiados de última hora.
Intrigado, meu pai foi investigar o que ocorrera e verificou que havia, ainda, pequena poça de uma substância estranha no pé da fícus. Ao se aproximar, era nítido o odor de água sanitária e algum herbicida, depositados sorrateiramente, durante a madrugada, por alguém.
Eu fiquei imaginando quem poderia ter feito aquela crueldade. Que espírito de porco teria descarregado suas frustrações, medos, invejas e ciúmes – ou seria apenas um sádico – em cima da pobre árvore?
Seja lá quem for, tal atitude me fez pensar que, na verdade, “crimes” assim, motivados pelas sombras que habitam dentro de cada um de nós, ocorrem cotidianamente em todos os lugares e situações, findando, geralmente, socialmente impunes, pois cometidos sob o véu do anonimato.
Coisas assim podem parecer transgressões insignificantes e, por isso, toleráveis, mas devemos ter consciência de que matar uma árvore é tão cruel quanto maltratar animais, furar a fila da vacina, receber um troco errado e não devolver, vender votos, dar um jeitinho com o guarda de trânsito, dentre tantas outras coisas que, aparentemente, são inofensivas, mas passam a moldar o nosso modo de vida.
No cerne desse pensamento está a construção social equivocada de levarmos vantagem em tudo, de subirmos a qualquer preço, de pensarmos somente em nós, como se fossemos o centro do universo.
Não obstante, criticamos a política internacional dos norte-americanos, os chineses, os capitalistas ou comunistas, condenamos a devastação da Amazônia, xingamos os políticos e culpamos o Governo por tudo. Nas redes sociais, somos os guardiães da moralidade, os magistrados do que é ou não correto, os críticos ferozes dos erros dos outros e o modelo de retidão e sucesso a ser seguido pelos outros.
No entanto, na vida real, quase todos nós somos incapazes de resolver problemas simples com um familiar; somos incompetentes da gestão de nosso dinheiro e imprevidentes nos investimentos futuros. Como ensinou Jesus, não conseguimos, sequer, tirar as traves dos nossos próprios olhos, antes de apontar o argueiro no do irmão.
Que moral temos? A maioria de nós, ao exercitar o pequeno poder em seu mundinho, seja em casa ou no trabalho, iguala-se aos piores ditadores. Na primeira oportunidade, favorecemos os bajuladores, tratamos com indiferença aqueles que não tiveram a sorte de cair em nossa graça e queremos “matar” os que discordam de nossas limitadas opiniões.
Como querer uma nação de paz se nos tratamos com tanto ódio? Como queremos uma casa em harmonia se não toleramos a personalidade do outro? Como exigimos respeito se não percebemos a quantidade de vezes que desrespeitamos ou ferimos aqueles que conosco convivem?
Einstein dizia que insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Pois, então, somos insanos porque todos nós queremos a felicidade e prosperidade, mas trilhamos o caminho da tristeza e miserabilidade.
Tudo o que nos acontece é reflexo de nossas ações; consequências diretas e indiretas do que pensamos, agimos e nos omitimos, materializando-se, em nossas vidas, o que concebemos em nosso coração. É a regra de ouro de antigo provérbio “O plantio é livre, mas a colheita, obrigatória”.
Assim, estamos colhendo uma sociedade violenta, intolerante e individualista como efeito da nossa insensibilidade e exploração do outro para satisfação pessoal, fechando as portas para a colaboração mútua e compartilhamento da prosperidade, fazendo todo sentido a frase de Hobbes de que “O homem é lobo do próprio homem”.
Quem matou a fícus de meus pais? Hoje, eu sei… Eles, eu, todos nós a matamos quando damos vazão aos vícios, aos medos, ao egocentrismo; quando deixamos, principalmente nos momentos difíceis, que este lobo interno saia da toca e devore o resto da nossa humanidade.
Entretanto, ainda há tempo e esperança para replantarmos uma fícus em nossas vidas. Como ensinou Chico, “Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim”.
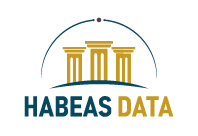
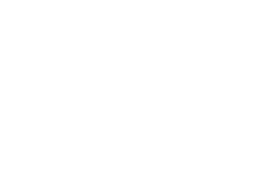










Meu caro amigo, continuo lendo e aplaudindo suas reflexões compartilhadas com todos aos domingos. Palavras de sabedoria de quem se aproxima de meio século de vida!
Muito bem observado esse seu discernimento sobre a realidade da diferença de opiniões e sentimentos concomitantes que as pessoas têm quando alguém pensa diferentemente delas, principalmente quando o assunto é política e religião.
A propósito o nome científico desse fícus é Ficus benjamina. Os portugueses os trouxeram da Índia para o Brasil na época da colonização. Ela é uma arvoreta que o pessoal aqui no Brasil a usa como planta ornamental e a chama popularmente de “fíxus” aqui no RN
Muito bom. Excelente reflexão.
Um grande abraço Dr. Kennedy.